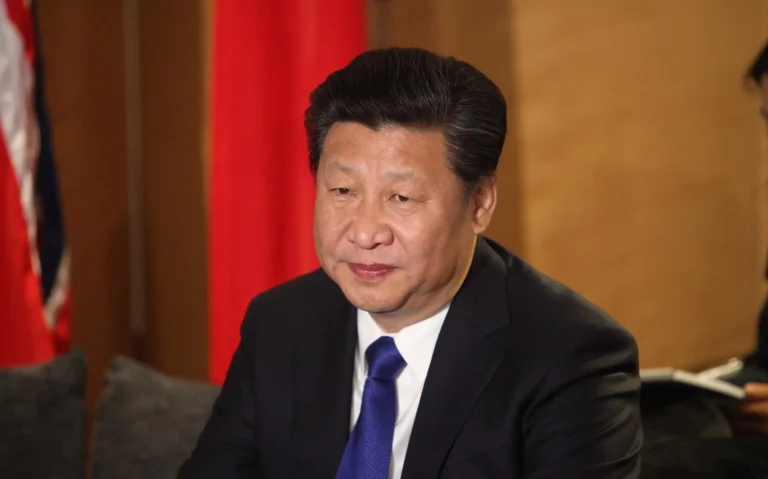Temas
Compartilhe
Minha família é formada por imigrantes italianos e franceses que chegaram ao Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. Meus pais, criados na ética e na filosofia do humanismo, julgaram que só havia uma maneira de estrangeiros integrarem-se aos países que escolheram viver: por meio da educação ampla, plural e cidadã.
Por isso, quando chegou a hora, optaram por inscrever seus filhos em escolas públicas. Eu, por exemplo, fui tentar a sorte no Colégio Estadual Oswaldo Aranha, o glorioso Vocacional, uma instituição formidável em seus princípios educacionais, mas que teve seu projeto ceifado na época da repressão militar. Assim, a despeito das instabilidades do mundo da política, não me arrependo de qualquer dia passado naquele estabelecimento. Ao contrário, agradeço por todos eles.
Sei que a memória é traiçoeira e faz um jogo malandro entre presente e passado. Mas ao ler o debate a respeito da nova reforma para o ensino médio no Brasil – sobretudo a discussão sobre a flexibilização que incide mais diretamente sobre matérias como Educação Física, Sociologia e Artes -, acabei lembrando dos meus tempos de aluna do Vocacional, e a saudades bateu forte.
Para começar, se a seleção para a entrada naquela escola era feita na base de critérios econômicos, e por meio da aferição de todo tipo de conhecimento; já aceitos e matriculados, os alunos eram divididos a partir de outro quesito: o nível da atividade física que eram capazes de desempenhar. Com isso, aprendíamos, desde o início, que esse era um conhecimento fundamental para nosso processo de crescimento pessoal e coletivo. O “dia de campeonato” suspendia a rotina costumeira da semana; o “dia de teste de resistência física” gerava não só expectativa como atos de solidariedade entre colegas; o “dia de jogar batalha naval”, atividade que misturava esforço físico com um bocado de domínio em história e geografia, era recebido com grandes doses de ansiedade.
Não por coincidência, a filosofia de toque do Vocacional era a integração e a fricção entre áreas. Tanto que, além das matérias tradicionais, os alunos passavam por uma série de programas, digamos assim, pouco convencionais. Dentro do currículo regular e obrigatório constavam: práticas comerciais – onde aprendíamos contabilidade e gestão empresarial; práticas domésticas – quando todos os alunos entendiam o valor da administração privada e a importância da culinária e do bordado; práticas industriais – espaço em que era preciso socializar-se na lógica da madeira, do martelo e do prego, ou estar condenado a estourar o dedo; e práticas artísticas. Nesse último caso, estudantes ensaiavam as mais diferentes técnicas, bem como aprendiam a ler imagens: pintura, escultura, gravura, fotografia. Eram, pois, muitos mundos que se abriam, sem hierarquia fácil ou eleição prévia.
Lilia Schwarczé professora da USP e global scholar em Princeton. É autora, entre outros, de “O espetáculo das raças”, “As barbas do imperador”, “Brasil: uma biografia”, "Lima Barreto, triste visionário”, “Dicionário da escravidão e liberdade”, com Flavio Gomes, e “Sobre o autoritarismo brasileiro”. Foi curadora de uma série de exposições dentre as quais: “Um olhar sobre o Brasil”, “Histórias Mestiças”, “Histórias da sexualidade” e “Histórias afro-atlânticas". Atualmente é curadora adjunta do Masp para histórias.
Os artigos publicados pelos colunistas são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam as ideias ou opiniões do Nexo.
Destaques
Navegue por temas