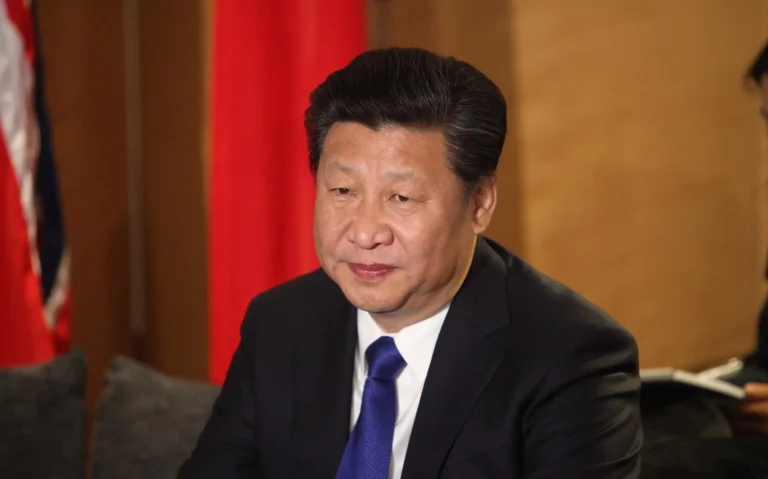A poucos dias das eleições norte-americanas, diversas pesquisas apontam para a grande probabilidade de Joe Biden, do Partido Democrata, superar o presidente Donald Trump, do Republicano, no voto popular, com chances efetivas de que essa vitória se reproduza no colégio eleitoral. O sistema americano difere radicalmente do brasileiro, em que o eleito é aquele que obtém maior número de votos no território nacional.
Nos Estados Unidos, presidente e vice-presidente são eleitos indiretamente, por um colégio eleitoral composto por 538 delegados estaduais, cujo número correspondente a cada estado está associado ao tamanho de sua representação na Câmara e no Senado. Os delegados são escolhidos previamente às eleições pelos eleitores dos dois maiores partidos americanos e detêm a prerrogativa de eleger o presidente por maioria absoluta dos votos (a partir de 270). Embora a regra possa variar ligeiramente entre os estados, no geral o candidato mais votado no distrito eleitoral carrega todos os seus delegados, independentemente do quão expressiva foi sua vitória. Essa é razão pela qual o candidato eleito nem sempre é o mais votado nacionalmente , como nas eleições de Bush, em 2000, e Trump, em 2016.
Como o número de delegados está associado ao tamanho da população, os estados mais populosos também são os que indicam maior número de delegados. Nem sempre, entretanto, eles são os mais centrais na estratégia eleitoral, já que alguns votam sempre no mesmo partido de forma sistemática. De 2000 a 2016, 38 estados repetiram seu comportamento nas urnas, garantindo disputas previsíveis nos seus colégios eleitorais. Há, no entanto, aqueles que não se alinham constantemente com nenhum partido, sendo, portanto, decisivos para o resultado final: são os chamados swing states.
São 11 os swing states mais tradicionais: Arizona, Flórida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Virgínia e Wisconsin. A previsão para 2020 é que Biden deve vencer na maioria desses estados, incluindo os que tenderam mais à direita em 2016. A possibilidade de vitória dos democratas na Flórida, inclusive, não é desprezível. Por quase duas décadas, nenhum presidente assumiu a Casa Branca sem ganhar nesse estado, cujo comportamento político é tradicionalmente de difícil previsão. Em 2016, Trump ganhou na Flórida por pequena margem percentual de votos. Além disso, a vantagem de Biden é tamanha que estados tradicionalmente republicanos, como Geórgia e Texas, permanecem indefinidos até o momento.
O sucesso dos democratas está igualmente previsto na Câmara, casa hoje já controlada pelo partido, e no Senado, de maioria republicana. Das 100 cadeiras do Senado, apenas 35 estarão em disputa, a maior parte delas ocupada pelo partido de Trump. Se parte dessas cadeiras for transferida ao partido oponente, pode haver uma onda azul: democratas no controle da presidência, da Câmara e do Senado.
Sem Trump na cena, ou o Brasil retoma certa racionalidade na condução da política externa, ou só fará aumentar o isolamento que hoje se impõe
No início do ano, no entanto, talvez não fosse esse o resultado dito mais provável. A extensão da pandemia, as iniciativas de Trump frente à crise sanitária, os conflitos raciais, que colocaram o Estado americano no centro do debate, e a candidatura de Kamala Harris à vice-presidência têm garantido apoio mais consistente das mulheres aos democratas e consolidado a tradicional preferência dos negros pelo partido. Além disso, o Partido Democrata está coeso em seu apoio a Biden, a despeito de seus acenos tímidos à esquerda — situação que contrasta com 2016, quando a vitória de Hillary Clinton na convenção partidária desmobilizou parte do eleitorado potencial do partido.
Apesar de tais previsões, as eleições de 2020 não serão ordinárias. Embora o aumento da margem de diferença de votos entre Biden e Trump em favor do primeiro venha sustentando o ânimo (e as doações) da campanha democrata, há incertezas. A retórica da campanha de Trump, antecipando dúvida sobre a lisura do processo eleitoral, e o crescimento exponencial dos votos pelo correio , como decorrência da pandemia, são fatores de risco que alimentam expectativas de judicialização da apuração.
Para o Brasil, uma eventual vitória de Biden no dia 3 de novembro tem consequências. A história comercial entre os dois países é longa e estável, e, a despeito da aproximação entre Trump e Bolsonaro, não houve mudanças positivas com relação à participação dos EUA na balança comercial brasileira. É provável que uma vitória de Biden também não produza mudanças nesse cenário, embora possa melhorar as relações entre Estados Unidos e China. Isso, por sua vez, tende a diminuir a pressão política sobre as relações comerciais entre o Brasil e a China e a aumentar as possibilidades de negócios entre os dois países, ainda que haja incremento das importações chinesas e de produtos americanos em detrimento das exportações brasileiras.
Além disso, uma vitória de Biden aumentará o peso do multilateralismo na política externa americana, com foco em questões ambientais. Pode haver aumento da pressão externa sobre o Brasil, com impacto político e econômico, inclusive no que diz respeito ao destino do acordo entre União Europeia e Mercosul. A pauta ambiental, é bom dizer, vem opondo Democratas e Bolsonaro desde 2019 e, especificamente, Biden e Bolsonaro no período pré-eleitoral. Fazer contraposição pública à Bolsonaro tem rendido dividendos eleitorais ao democrata, na medida em que expõe e fortalece seu compromisso geral com o meio ambiente e com a Amazônia em particular.
O governo brasileiro parece reconhecer que os ventos não sopram a seu favor nas eleições americanas e já se ventila, no Planalto, a substituição do ministro Ernesto Araújo. Do ponto de vista das relações internacionais, o alinhamento brasileiro a uma agenda ideológica radical de direita resultou em perda de espaços importantes de interlocução e decisão. Sem a referência de Trump na cena política global, ou o Brasil retoma certa racionalidade na condução da política externa, ou só fará aumentar o isolamento que hoje se impõe.
Débora Gershon é cientista política na Poliarco Inteligência Política. Doutora e mestre em ciência política pelo Iesp/Uerj (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e o Iuperj (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro), respectivamente, com pós-doutorado pela University of California, San Diego, nos Estados Unidos, onde atuou como pesquisadora visitante. É também pesquisadora do OLB (Observatório Legislativo Brasileiro).
Leonardo Martins Barbosa é cientista político na Poliarco Inteligência Política. Doutor em ciência política pelo Iesp/Uerj. É pesquisador do Necon (Núcleo de Estudos sobre o Congresso) e do OLB.