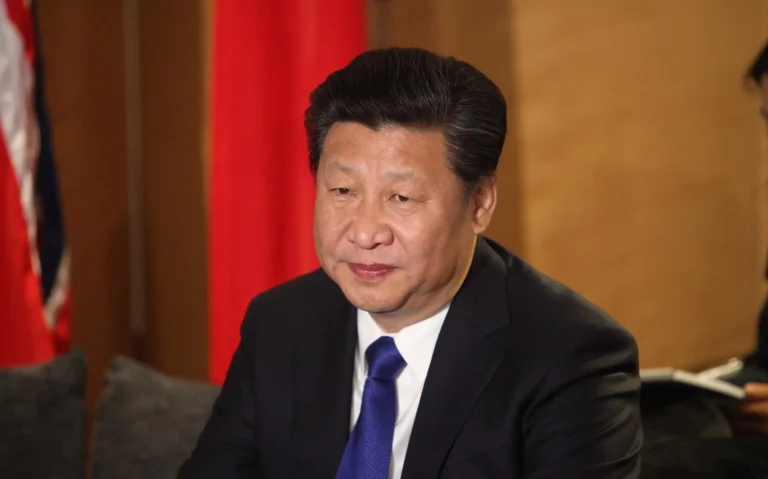Encerrado nessa objetividade esmagadora, supliquei a outro alguém. Seu olhar libertador, deslizando sobre o meu corpo subitamente livre de asperezas, restituiu em mim uma leveza que eu acreditava perdida e, afastando-me do mundo, devolveu-me ao mundo. Mas, lá, tropecei já na contravertente, e o outro, por meio de gestos, atitudes, olhares, fixou-me, como se fixa um corante com um estabilizador. Eu me enfureci, exigi uma explicação… Nada adiantou. Explodi. Eis aqui os estilhaços recolhidos por outro eu.
Enquanto o negro estiver em seu lar, não precisará, exceto por ocasião de lutas internas de menor gravidade, pôr seu ser à prova de outrem. É óbvio que existe o momento de “ser para o outro”, de que fala Hegel, mas qualquer ontologia se torna irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada. Isso parece não ter recebido atenção suficiente daqueles que escreveram sobre a questão. Existe, na Weltanschauung de um povo colonizado, uma impureza, uma tara que impugna qualquer explicação ontológica. Talvez possam objetar que o mesmo acontece a qualquer indivíduo, mas isso significaria mascarar um problema fundamental. A ontologia, quando se admite de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser do negro. Pois o negro já não precisa ser negro, mas precisa sê-lo diante do branco. Alguns teimarão em nos lembrar de que a situação tem duplo sentido. Respondemos que isso é falso. O negro não tem resistência ontológica aos olhos do branco. Os negros, de um dia para o outro, passaram a ter dois sistemas de referência em relação aos quais era preciso se situar. Sua metafísica ou, menos pretensiosamente, seus costumes e as instâncias às quais remetem foram abolidos, pois estavam em contradição com uma civilização por eles desconhecida e que lhes foi imposta.
O negro em seu lar, no século 20, ignora o momento em que sua inferioridade passa pelo outro… Sem dúvida, chegamos a discutir o problema negro com amigos ou, mais raramente, com negros americanos. Juntos, protestamos e afirmamos a igualdade dos homens perante o mundo. Também nas Antilhas havia esse pequeno hiato entre a branquelada, a mulatada e a negrada. Mas nos contentávamos com uma compreensão intelectual dessas divergências. De fato, isso não era nada dramático. E então…
Então nos coube enfrentar o olhar branco. Um peso fora do comum passou a nos oprimir. O mundo real disputava o nosso espaço. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração do seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é uma atividade puramente negacional. É um conhecimento em terceira pessoa. Ao redor do corpo, reina uma atmosfera de clara incerteza. Eu sei que, se quiser fumar, precisarei esticar o braço direito para alcançar o maço de cigarros que está na outra ponta da mesa. Os fósforos, por sua vez, estão na gaveta da esquerda; precisarei recuar um pouco. E todos esses gestos, eu os faço não por hábito, e sim por um conhecimento implícito. Lenta construção do meu eu enquanto corpo no interior de um mundo espacial e temporal, parece ser esse o esquema. Ele não se impõe a mim, é em vez disso uma estruturação definitiva do eu e do mundo – definitiva, porque se estabelece uma dialética efetiva entre meu corpo e o mundo.
Já faz alguns anos que laboratórios tentam descobrir uma poção de desnegrificação; com a maior seriedade do mundo, laboratórios enxaguaram seus tubos de ensaio, calibraram suas balanças e deram início a pesquisas que permitirão aos pobres negros se branquear e, assim, não mais ter de carregar o peso dessa maldição corporal. Eu havia criado, por baixo do esquema corporal, um esquema histórico-racial. Os elementos que utilizei não me foram fornecidos por “resíduos de sensações e percepções de ordem sobretudo tátil, vestibular, cinestésica e visual”, mas pelo outro, o branco, que teceu para mim milhares de detalhes, anedotas, relatos. Achava que tinha de construir um eu fisiológico, equilibrar o espaço, localizar sensações, e eis que me pediam um suplemento. “Olhe, um negro!” Era um estímulo externo que me futucava de passagem. Eu esboçava um sorriso.
“Olhe, um negro!” Era verdade, eu me divertia.
“Olhe, um negro!” O círculo pouco a pouco se estreitava. Eu me divertia abertamente.
“Mamãe, olhe o negro, estou com medo!” Medo! Medo! E eis que agora eu era temido. Queria me divertir com isso até engasgar, mas isso se havia tornado impossível para mim.
Eu não aguentava mais, pois já sabia que existiam lendas, histórias, a história e, acima de tudo, ahistoricidade, sobre a qual Jaspers havia me ensinado. O esquema corporal, atacado em vários pontos, desabou, dando lugar a um esquema epidérmico racial. A partir daí, não se tratava mais de um conhecimento do meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa. A partir daí, em vez de um, deixavam-me dois, três assentos livres no trem. Eu já não me divertia mais. Não encontrava mais nenhuma das coordenadas febris do mundo. Eu existia triplamente: ocupava um lugar, ia na direção do outro… e o outro – evanescente, hostil, porém não opaco, e sim transparente, ausente – desaparecia. Era nauseante…
Eu era a um só tempo responsável pelo meu corpo, pela minha raça e pelos meus ancestrais. Eu me percorri com um olhar objetivo, descobri minha negrura, meus traços étnicos – e então me arrebentaram o tímpano com a antropofagia, o atraso mental, o fetichismo, as taras raciais, os negreiros e, acima de tudo, acima de tudo o mais: “Y’a bon banania”.
Àquela altura, desorientado, incapaz de sair por aí com o outro, o branco implacável que me aprisionava, fui para longe da minha própria presença, muito longe, e me fiz objeto. O que mais seria isso para mim, senão um descolamento, uma extração, uma hemorragia que fazia sangue negro coagular por todo o meu corpo? Mesmo assim, eu não queria essa reconsideração, essa tematização. Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Queria ter chegado lépido e jovial a um mundo que fosse nosso e que juntos construíssemos.
Mas eu recusava qualquer tetanização afetiva. Queria ser humano, nada além de humano. Alguns me vinculavam aos meus ancestrais, escravizados, linchados: decidi aceitar. Foi por meio do plano universal do intelecto que compreendi esse parentesco interno – eu era neto de escravos nos mesmos termos em que o presidente Lebrun o era de camponeses sujeitos à corveia e ao arbítrio. No fundo, o alvoroço se dissipou rapidamente.
Nos Estados Unidos, os negros são segregados. Na América do Sul, grevistas negros são açoitados nas ruas e metralhados. Na África Ocidental, o negro é uma besta. E aqui, muito perto de mim, bem ao meu lado, este colega de faculdade, originário da Argélia, que me diz: “Enquanto insistirem em fazer do árabe uma pessoa como nós, nenhuma solução será viável”.
— Veja só, meu caro, o preconceito de cor é algo que desconheço… Mas, claro, senhor, pode entrar, o preconceito de cor não existe aqui entre nós… Exatamente, o negro é uma pessoa como nós… Não é porque é negro que ele é menos inteligente que nós… Tive um colega senegalês no regimento, ele era muito fino…
Onde me situar? Ou, se preferirem: onde me enfiar?
— Martinicano, oriundo das “nossas” velhas colônias.
Onde me esconder?
— Olhe o negro!… Mamãe, um negro!… Quieto! Ele vai se zangar… Não lhe dê atenção, meu senhor, ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto a gente…
Meu corpo me era devolvido desmembrado, desmantelado, arrebentado, todo enlutado naquele dia branco de inverno. O negro é uma besta, o negro é mau, o negro é malicioso, o negro é feio; olhe, um negro, faz frio, o negro treme, o negro treme porque sente frio, o menino treme porque tem medo do negro, o negro treme de frio, aquele frio de torcer os ossos, o belo menino treme porque acha que o negro treme de raiva, o menino branco corre para os braços da mãe: mamãe, o negro vai me comer.
À minha volta o branco, no alto o céu se rasga pelo umbigo, sob meus pés a terra range e um canto branco, branco. Toda essa brancura que me calcina…
Sento-me ao pé do fogo e encontro a minha libré. Não a havia visto antes. Ela é realmente feia. Mas paro aqui, pois quem me dirá o que é a beleza?
Onde me enfiar dali em diante? Sentia subir das incontáveis dispersões do meu ser um fluxo facilmente reconhecível. Eu ia ficar com raiva. Fazia tempo que o fogo estava apagado, mas o negro voltava a tremer.
— Olhe como é bonito esse negro…
— O negro bonito quer que a senhora se foda, madame!
Frantz Fanon foi um psiquiatra, filósofo e militante político francês. Nasceu em Fort-de-France, capital da então colônia francesa Martinica, em 1925. Em 1941, teve aulas no Lycée Schœcher com o poeta e crítico da colonização europeia Aimé Césaire. Em 1953, aceitou uma oferta para coordenar o maior hospital psiquiátrico da Argélia. Juntou-se à luta argelina contra a França por independência, liderada pela FLN (Frente de Libertação Nacional). Prestou serviço médico aos revolucionários, treinou equipes médicas, palestrou e escreveu a respeito da revolução. Em 1960, foi diagnosticado com leucemia e morreu no ano seguinte.

Pele negra, máscaras brancas
Frantz Fanon
Trad. Sebastião Nascimento
Ubu
336 páginas
Em pré-venda a partir de 16 de novembro